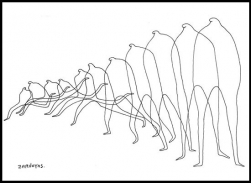O pensador hegemônico
Michael Löwy, Guido Liguori, Sérgio Paulo Rouanet
1999
O material publicado pela Folha de S. Paulo, reproduzido abaixo, compreende a entrevista de Carlos Nelson Coutinho, realizada por Maurício Santana Dias; depoimentos de expressivos intelectuais brasileiros; e três artigos especiais, assinados por Michael Löwy, Guido Liguori e Sérgio Paulo Rouanet
———————————–
1. ENTREVISTA – Carlos Nelson Coutinho
———————————–
No dia 8 de novembro de 1926, o deputado e secretário-geral do PCI (Partido Comunista Italiano), Antonio Gramsci (1891-1937), foi preso pelas forças de Mussolini. Dois anos mais tarde, em seu julgamento, o promotor teria afirmado: «É preciso impedir que esse cérebro funcione por 20 anos». Gramsci foi então condenado a uma pena pouco maior que essa, da qual cumpriu mais de dez anos. No cárcere, entre 29 e 35, produziu uma das mais importantes obras de reflexão política do século.
Foi numa carta de 19 de março de 27 que Gramsci manifestou pela primeira vez o desejo de escrever um estudo de fôlego. Algo que transcendesse os artigos que publicava nos jornais de esquerda e o ajudasse a superar a miséria da vida carcerária. Nele, Gramsci buscou sobretudo reelaborar e ampliar as concepções marxistas sobre a sociedade, a cultura e o Estado modernos, propondo uma via democrática ao comunismo.
Entretanto Gramsci teve de esperar até fevereiro de 29, quando o diretor do presídio de Turi, na região de Bari (Itália), finalmente lhe permitiu estudar e escrever na cadeia. Com uma grafia legível, miúda e sem emendas, ele preencheu durante seis anos seguidos — até abril de 35, quando sua saúde se agravou — 32 cadernos de capa dura, três deles dedicados exclusivamente a exercícios de tradução.
São esses Cadernos do Cárcere que começam a chegar às livrarias do país a partir de dezembro, quando a Civilização Brasileira lançará o primeiro dos seis volumes. Além disso, estão previstos outros cinco volumes: dois reunindo os escritos pré-carcerários e três com as cartas do cárcere [Estas Cartas foram integralmente publicadas em dois volumes, em 2005]. A edição e tradução das obras completas ficaram a cargo do professor titular de teoria política da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Carlos Nelson Coutinho, tradutor de Gramsci nos anos 60, e dos co-editores Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Gramsci é tema também do livro de Norberto Bobbio, Ensaios sobre Gramsci e o Conceito de Sociedade Civil, agora publicado pela Paz e Terra.
Movido pelo «pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade» — o «mote» dos Cadernos —, esse intelectual nascido na Sardenha, de origem proletária, medindo pouco mais de 1,50 m, deixou uma obra que, na opinião das personalidades ouvidas pela Folha (leia abaixo), não perdeu o vigor e a atualidade — ao contrário do que ocorreu com outras vertentes do pensamento marxista.
Além de ter reformulado as bases do pensamento político de esquerda, Gramsci foi um criativo analista da imprensa, da literatura, do teatro, das instituições de ensino, dos intelectuais — aos quais atribuiu um papel fundamental na transformação da sociedade. Um pensador que, da prisão, preocupou-se com a totalidade dos fenômenos que cercavam o homem do seu tempo, como afirma Coutinho na entrevista abaixo.
Folha – A década de 90 assistiu ao colapso do «socialismo real» e, também, a uma retração do pensamento marxista. Agora começa a ser lançada no Brasil a edição completa dos Cadernos do cárcere. Qual o sentido dessa publicação?
Carlos Nelson Coutinho – Não é justo dizer que o pensamento marxista sofreu uma retração. O fim do chamado «socialismo real» representou a crise terminal de uma específica leitura de Marx, o chamado «marxismo-leninismo», hábil pseudônimo de stalinismo. Essa leitura serviu de ideologia de Estado para aqueles regimes ditos «comunistas», os quais, a meu ver, nada mais tinham a ver com o marxismo. Mas o fato é que alguns autores marxistas até começaram a ser lidos com mais atenção depois do colapso do «socialismo real». Entre eles, eu destacaria os integrantes da Escola de Frankfurt (em particular Walter Benjamin), mas, sobretudo, Antonio Gramsci. Embora sejam muito diferentes entre si, Benjamin e Gramsci nada têm a ver com o «marxismo-leninismo». Republicar Gramsci tornou-se, assim, uma demanda real. Quando ele foi publicado aqui, parcialmente, em meados dos anos 60, chegamos a dispor em português de uma massa de textos que, com exceção do italiano e do espanhol, não estava disponível ainda em nenhuma outra língua. Gramsci foi lido, reeditado, utilizado dentro e fora da universidade, em vários campos, da teoria política à antropologia, da crítica literária à pedagogia e ao serviço social. Penso que o sentido dessa nova edição é torná-lo mais bem conhecido no Brasil e, desse modo, propor um novo debate sobre suas idéias. E isso precisamente no momento em que parece estar começando a ruir a hegemonia do «pensamento único», neoliberal.
Folha – O sr. foi um dos responsáveis pela divulgação de Gramsci no Brasil, a partir dos anos 60. Considerando as grandes transformações que ocorreram de lá para cá, não só no país, quais as suas expectativas quanto à recepção dessa obra?
Coutinho – Gramsci é hoje uma referência essencial para boa parte da esquerda e centro-esquerda brasileiras, do PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) ao PPS (Partido Popular Socialista), passando pelas várias correntes do PT (Partido dos Trabalhadores). Não só: até mesmo o presidente Cardoso, numa entrevista à Veja, usou Gramsci para justificar suas posições políticas neoliberais. Embora os Cadernos do cárcere possuam uma articulação interna sistemática, a sua forma de apresentação é claramente fragmentária: isso parece permitir interpretações ilimitadas, como se a obra de Gramsci fosse uma «obra aberta».
Não creio que o seja: Gramsci era um comunista, refletiu sobre as condições da revolução socialista no que ele chamou de «Ocidente», propondo uma estratégia diversa daquela dos bolcheviques na Rússia de 1917. Mas o fato de que sua interpretação provoque acesos debates, que tanto o PSTU quanto o presidente Cardoso possam citá-lo com aprovação, parece-me uma prova de que é preciso relê-lo com atenção.
Folha – Em que condições Gramsci escreveu os cadernos?
Coutinho – Em condições muito difíceis. Preso pelo fascismo em 1926, só em 1929 ele teve autorização para escrever em sua cela. A partir de então, e até 1935, quando suas condições de saúde o impediram definitivamente de trabalhar, preencheu 32 cadernos escolares, que ocupam cerca de 3.000 páginas impressas. Três deles eram formados por exercícios de tradução, sobretudo do russo e do alemão. Os outros 29 contêm apontamentos de sua autoria. O próprio Gramsci os dividiu em «cadernos miscelâneos» e «cadernos especiais». Nos «miscelâneos», juntou notas sobre variadíssimos temas; nos «especiais», em geral mais tardios, tentou agrupar essas notas segundo temas específicos, como «Introdução ao Estudo da Filosofia», «Para uma História dos Intelectuais», «Americanismo e Fordismo» etc.
Folha – Nos anos 60, os marxistas mais influentes eram Louis Althusser e Herbert Marcuse — além do marxismo-leninismo, orientado pelo PC soviético. Como o pensamento de Gramsci se inseriu nesse contexto?
Coutinho – Com muita dificuldade. Antes que ocorresse a influência de Althusser e de Marcuse, alguns intelectuais comunistas — entre os quais me incluo — tentaram renovar a cultura teórica do PCB, que naquele momento já competia com outras correntes progressistas, como os cristãos de esquerda. Fomos apoiados nessa iniciativa por Ênio Silveira, que então dirigia a Civilização Brasileira. Gramsci, juntamente com Lukács e Sartre, representou na época uma renovação do marxismo nos campos da filosofia e da crítica literária. Deixamos de lado o fato de que Gramsci era o maior teórico político marxista do século 20. Não o fizemos intencionalmente, mas criamos assim uma tácita «divisão do trabalho»: a direção do PCB decidia sobre a linha política, enquanto nós tentávamos definir a linha cultural. Isso não deu e não podia dar certo: quando a linha «moderada» do PCB começou a ser criticada, também foram criticados Gramsci e Lukács. É o momento em que Marcuse esgota edições a cada três meses e Gramsci é vendido em estantes de saldo a preço de banana. As coisas hoje mudaram. Gramsci continua a ser lido, enquanto ninguém mais lê Marcuse. Mas não digo isso com espírito revanchista: é uma pena que ninguém mais leia Marcuse. Ele, com seu salutar radicalismo, tem muito a nos dizer.
Folha – Em fins dos anos 60, grande parte da esquerda radicalizou suas ações contra o regime militar e partiu para a luta armada — sob a influência de Mao, Trotski e Fidel Castro. Isso teria contribuído para o «pé atrás» em relação às teorias gramscianas?
Coutinho – Muito provavelmente. Gramsci propunha algo diverso: para ele, em países mais complexos socialmente, como já era o caso do Brasil naquele momento, a estratégia era outra. Em vez da luta armada, da «guerra de movimento», devíamos adotar a «guerra de posição», a luta progressiva pela hegemonia etc. O PCB até fazia isso, mas o fazia tão mal que era difícil convencer quem não fosse um disciplinado militante. Assim, num terreno marcado pela disputa entre Mao, Fidel e Brejnev, não havia nenhum lugar para Gramsci, o que foi péssimo para a esquerda brasileira. Só no final dos anos 70 é que Gramsci voltou a ser lido e a ter influência. Isso ocorreu sobretudo porque, naquele momento, entraram em crise tanto o «sovietismo» do PCB quanto as ilusões da chamada «esquerda armada».
Folha – Em que medida os conceitos gramscianos de «hegemonia» e «sociedade civil» renovaram o pensamento marxista?
Coutinho – Foi principalmente por causa deles que o marxismo se tornou contemporâneo do século 20 e, espero, também do século 21. Gramsci percebeu que, a partir da segunda metade do século 19, havia surgido uma nova esfera do ser social capitalista: o mundo das auto-organizações, do que ele chamou de «aparelhos privados de hegemonia». São os partidos de massa, os sindicatos, as diferentes associações — tudo aquilo que resulta de uma crescente «socialização da política». Ele deu a essa nova esfera o nome de «sociedade civil» e insistiu em que ela faz parte do Estado em sentido amplo, já que nela têm lugar evidentes relações de poder. A «sociedade civil» em Gramsci é uma importante arena da luta de classes: é nela que as classes lutam para conquistar hegemonia, ou seja, direção política, capacitando-se para a conquista e o exercício do governo. Ela nada tem a ver com essa coisa amorfa que hoje chamam de «terceiro setor», pretensamente situado para além do Estado e do mercado.
Ao descobrir essa nova esfera, ao dar-lhe um nome e ao definir seu espaço, Gramsci criou uma nova teoria do Estado. O Estado, para ele, não é mais o simples «comitê executivo da burguesia», como ainda é dito no Manifesto comunista, mas continua a ser um Estado de classe. Contudo, o modo de exercer o poder de classe muda, já que o Estado se amplia graças à inclusão dessa nova esfera, a «sociedade civil». Buscar hegemonia, buscar consenso, tentar legitimar-se: tudo isso significa que o Estado deve agora levar em conta outros interesses que não os restritos interesses da classe dominante. Com isso, Gramsci chegou a compreender o tipo de Estado que é próprio dos regimes liberal-democráticos, um Estado bem mais complexo do que aquele de que falam Marx e Engels no Manifesto ou Lenin e os bolcheviques no conjunto de sua obra.
Folha – O que é a chamada «revolução passiva»?
Coutinho – Esse é outro conceito central em Gramsci. Indica eventos concretos nos quais a classe dominante, reprimindo ou excluindo as demais, empreende processos de renovação «pelo alto», autoritários ou ditatoriais. Indica também épocas históricas em que a classe dominante, tentando excluir os «de baixo», recolhe algumas de suas demandas, mas impedindo que eles sejam protagonistas nos processos de transformação.
Para Gramsci, por exemplo, foram «revoluções passivas» tanto o fascismo quanto o «fordismo». Parece-me um grande equívoco, infelizmente adotado hoje por alguns autores brasileiros, ver na «revolução passiva» uma coisa também positiva, algo que a esquerda pode usar em sua luta pela transformação da sociedade. Gramsci a considerava um fenômeno negativo, já que é uma modalidade de transformação utilizada pelas classes dominantes para conservar o seu poder. Um político brasileiro, o velho mineiro Antonio Carlos (agora imitado pelo seu homônimo baiano), resumiu muito bem o espírito da revolução passiva, quando, em 1930, afirmou: «Façamos a revolução antes que o povo a faça». A chamada Revolução de 30, aliás, é um caso emblemático de «revolução passiva».
Folha – Gramsci faz uma distinção entre dois modelos básicos de sociedade: as «orientais» (pouco diversificadas) e as «ocidentais» (muito complexas). Como situar o Brasil nesse quadro?
Coutinho – Para Gramsci, no «Oriente» (e ele está pensando principalmente na Rússia czarista), o Estado em sentido estrito é tudo e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa; no «Ocidente» (e ele está pensando na Europa Ocidental e nos EUA), há um equilíbrio entre as duas esferas. Foi a partir dessa distinção que ele não só renovou a teoria do Estado, mas também se empenhou em criar um novo paradigma de revolução socialista, adequado ao «Ocidente», diverso daquele dos bolcheviques, que seria válido apenas para países «orientais».
O Brasil foi claramente «oriental» durante o Império e a República Velha. A partir de 30, com interrupções, houve um processo de «ocidentalização», de crescimento e complexificação da sociedade civil. Hoje, penso que já somos uma sociedade «ocidental». Claro, um «Ocidente» periférico e tardio, que contém em seu interior vastas zonas «orientais». Mas esse era também o caso da Itália nos anos 30, e Gramsci não hesitou em considerá-la «Ocidente».
Por isso, um caminho viável para o socialismo no Brasil não pode ser concebido a partir do que existe aqui de «orientalidade», mas deve respeitar essa «ocidentalidade» e se basear numa paciente batalha pela hegemonia, pela conquista de espaços na sociedade civil. Embora a expressão não seja de Gramsci, agrada-me chamar esse caminho de «reformismo revolucionário».
Folha – Gramsci atribuía à cultura, à superestrutura, uma dimensão política que foi subestimada pelo marxismo ortodoxo — muito preso ao determinismo econômico. Quais as implicações dessa abordagem?
Coutinho – Certamente, entre os marxistas, Gramsci foi um dos que mais valorizaram a cultura e seu papel não só na transformação da sociedade, mas também na sua conservação. Essa valorização é um dos momentos constitutivos do seu conceito de hegemonia. Em Gramsci, hegemonia não é apenas direção política, mas também cultural, isto é, obtenção de consenso para um universo de valores, de normas morais, de regras de conduta. Mas é preciso observar o seguinte: embora tenha ligado a cultura à «grande política», que definia como um momento de liberdade e de universalização, Gramsci sempre combateu a instrumentalização política da cultura, sempre respeitou sua autonomia, sua especificidade. Ou seja: a arte, assim como a cultura em geral, não se faz apenas com boas intenções políticas.
Folha – Os cadernos foram escritos antes que houvesse TV, Internet, mídia eletrônica — o que se tem chamado de «quarto poder». Como um gramsciano avaliaria a emergência desse novo fenômeno?
Coutinho – Na medida em que o mundo da mídia continua a ser propriedade privada de pequenos grupos da classe dominante, isso provoca um indiscutível desequilíbrio na disputa pela hegemonia. A nova mídia eletrônica, sobretudo a TV, tem um peso inegável na formação da opinião pública, na construção da cultura que está na base das relações de hegemonia. Mas essa nova mídia também está imersa na sociedade civil e sofre sua influência. Lembro que, na campanha pelas Diretas-já, em 84, a Globo começou simplesmente ignorando o movimento. Mas, a partir de um certo momento, à medida que a campanha se tornava de massa, não só foi pressionada a «repercutir» a campanha, mas até mesmo assumiu um tom simpático a ela.
Também aqui, portanto, trata-se de lutar pela conquista de espaços no interior da mídia, o que significa lutar por sua efetiva democratização. Isso implica não só uma pressão da opinião pública, mas também a elaboração de uma legislação adequada, que desprivatize o controle da mídia e o torne efetivamente público. Isso não é sinônimo de estatização, mas sim de controle efetivo pela sociedade civil. Se o rádio e a televisão são uma concessão pública, devem evidentemente ser publicamente controlados. Em suma, um gramsciano veria o mundo da mídia como mais um espaço de luta pela hegemonia. Nesse sentido, ele estaria mais próximo de Benjamin, que supunha ser possível utilizar revolucionariamente a «reprodutibilidade técnica» da cultura, do que de Adorno e Horkheimer, que condenam em bloco o que chamam de «indústria cultural».
———————————–
2. DEPOIMENTOS
———————————–
RAYMUNDO FAORO, ensaísta e advogado: «Gramsci é um marxista que não pereceu na recente fogueira que pretendeu liquidar o marxismo. Ele, além de original e avesso à ortodoxia, tem especial significação para a compreensão do Brasil. Há conceitos seus que, neste país, são atualíssimos. Felizmente, dessa vez, será editada a obra completa, num conjunto que é essencial para o conhecimento de suas idéias.»
JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI, filósofo: «Está havendo, felizmente, um certo retorno a Marx, na medida em que não só o neoliberalismo está em xeque, mas também a própria forma de pensar a sociedade entrou em colapso. A publicação de Gramsci se insere nesse quadro. Mesmo nos EUA se tem notado essa tendência.»
LUIZ WERNECK VIANNA, cientista político: «A recepção de Gramsci no Brasil deve ser contextualizada no processo de resistência ao regime militar. Com a sua revalorização da sociedade civil, Gramsci foi o teórico que favoreceu uma aliança entre uma certa esquerda (uma ala do PCB) e alguns liberais preocupados em emancipar a sociedade do controle do Estado. Tenho a expectativa de que a edição dos Cadernos desencadeie um novo tipo de reflexão.»
LEANDRO KONDER, ensaísta e escritor: «Mais de 30 anos se passaram e Gramsci está de volta entre nós. É uma excelente oportunidade para as novas gerações digerirem o que ele escreveu sobre a sociedade civil e o Estado, a guerra de posições e a hegemonia, os intelectuais e a revolução passiva, o senso comum e o bom senso, o nacional-popular e a política cultural. Riquíssimo material para reflexão.»
JOSÉ GENOÍNO, deputado federal (PT-SP): «Gramsci é uma referência importante para o pensamento de esquerda, um dos que mais contribuíram para renovar o marxismo neste século, tendo introduzido o conceito de «hegemonia» — em oposição à idéia de «assalto ao poder». Alguns pontos estão superados, como as bases do dogmatismo marxista. A esquerda tem de ter uma relação de independência com esses textos, tomá-los como referência para uma releitura diante de um novo contexto. A cultura da esquerda em nosso país é muito fraca. Essa publicação ajudará a melhorar a qualidade do debate.»
JACOB GORENDER, historiador: «Respondendo à indagação a respeito do processo da revolução socialista no Ocidente, no primeiro pós-Guerra, Gramsci põe à luz o nível de profundidade no qual se descobre a hegemonia burguesa alicerçada na conquista do consenso do proletariado. Agora, todavia, o processo histórico completou um ciclo, que permite desvelar um nível ainda mais profundo do conhecimento social: aquele em que se torna patente o reformismo ontológico do proletariado, sua preferência fundamental pelos benefícios dentro do próprio sistema capitalista.»
FREI BETTO, frade dominicano e escritor: «Considero Gramsci mais atual que nunca, porque foi dos poucos teóricos a tratar a questão da subjetividade e da cultura no processo histórico. A queda do Muro de Berlim, a meu ver, resultou do fracasso de se tentar construir coisa nova com material velho. A proposta era boa, conseguiu criar direitos sociais razoavelmente igualitários, porém não se trabalhou a questão da subjetividade e sua expressão na formação da sociedade civil e da democracia. Particularmente me encanta em Gramsci a ótica despreconceituosa diante do fenômeno religioso, o que é raro nos teóricos marxistas da primeira metade do século.»
———————————–
3. ARTIGOS – Löwy, Liguori, Rouanet
———————————–
O pensador heterodoxo, de MICHAEL LÖWY
Entre as várias razões que estimularam a recepção de Gramsci no Brasil a partir dos anos 60, uma das mais importantes foi sem dúvida o desejo de levantar a chapa de chumbo do positivismo, que pesava com várias toneladas não só sobre a cultura «republicana» brasileira desde o fim do século 19, mas também sobre a cultura política da esquerda marxista.
Mais conjunturalmente, se tratava de encontrar pontos de apoio político-filosóficos para resistir à onda de marxo-positivismo estruturalista promovida por Althusser e seus discípulos, que vinha tendo grande impacto na França e no Brasil. É nesse contexto que vários pensadores marxistas brasileiros — entre os quais Carlos Nelson Coutinho tem um papel pioneiro — vão começar a introduzir o pensamento de Gramsci no Brasil, traduzindo suas obras e utilizando seus conceitos para interpretar a realidade brasileira.
A obra de Antonio Gramsci representa, com efeito, uma das tentativas mais radicais de libertar o marxismo da herança cientificista e positivista que predominou na versão «ortodoxa», tanto da Segunda Internacional (Plekhanov, Kautsky) como da Terceira (Bukharin, Stalin).
Na obra de juventude de Gramsci (1916-19) a referência ao idealismo hegeliano de Croce e Labriola ou ao voluntarismo ético de Bergson e Sorel é essencialmente um meio para lutar contra a ortodoxia «científica» e o determinismo economicista dos representantes oficiais do marxismo à cabeça do movimento socialista italiano: Claudio Treves e Filippo Turati. Esse «bergsonismo» de Gramsci, para citar um termo ambíguo utilizado com frequência por seus adversários positivistas, será progressivamente superado (aufgehoben) no curso de sua evolução política e filosófica como dirigente comunista italiano.
O famoso artigo de 1917, celebrando a insurreição de outubro como «uma revolução contra O capital», deve também ser visto nesse contexto, isto é, como uma tentativa de romper com o que Gramsci chamava «as escórias positivistas e naturalistas» do marxismo.
Encarcerado pela polícia fascista em 1926, Gramsci vai redigir na prisão, no curso dos anos 1929-35, uma série de notas sobre temas filosóficos, políticos e culturais que constituem um dos pontos altos na história do pensamento crítico no século 20. Ao definir o marxismo como filosofia da práxis e como um método ao mesmo tempo radicalmente humanista e radicalmente historicista, ele se situa num plano infinitamente superior ao «diamat» (materialismo dialético) soviético e suas inúmeras tentativas de «aplicação». Isso também se traduz, no plano político, por um «esfriamento», no curso dos anos 30, das relações entre Gramsci encarcerado e a direção do Partido Comunista Italiano (Palmiro Togliatti).
O historicismo radical implica, antes de tudo, a negação de qualquer tentativa de interpretar a realidade social segundo o método materialista científico-natural, buscando descobrir «leis naturais» da sociedade que permitam «prever cientificamente» o curso dos acontecimentos. Ele exige também que o materialismo histórico seja aplicado a si mesmo, definindo assim seus próprios limites histórico-sociais. Segundo Gramsci, compreender a historicidade do marxismo significa reconhecer que ele pode — ou melhor, deve — ser superado pelo desenvolvimento histórico, com a passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade, da sociedade divida em classes à sociedade (comunista) sem classes. Evidentemente, não é possível dizer, sem cair no utopismo, qual será o conteúdo dessa nova forma de pensamento. Isso também significa, inversamente, que, enquanto vivemos num mundo dominado pelo capitalismo e pelas classes exploradoras, o marxismo continua sendo a forma mais avançada de ação/interpretação social.
Polemizando contra o historicismo, Louis Althusser insistia que Marx era «um homem de ciência como os outros», comparável, em seu terreno, a Lavoisier ou Galileu. Sem o dizer de forma explícita, ele se opunha diretamente a uma tese de Gramsci, que escrevia: «Graziadei […] coloca Marx como unidade em uma série de grandes cientistas. Erro fundamental: nenhum dos outros produziu uma concepção original e integral do mundo». Essa visão do mundo, a filosofia da práxis, não pode ser decomposta em uma ciência positiva de um lado e uma ética do outro: ela supera, em uma síntese dialética, a oposição tradicional entre «fatos» e «valores», ser e dever-ser, conhecimento e ação, teoria e prática.
Na sua tentativa de reconstrução do marxismo e do comunismo, Gramsci submete a uma crítica radical a doutrina predominante na Terceira Internacional, que tem uma de suas manifestações mais inteligentes no livro de Nikolai Bukharin sobre o materialismo histórico, o Manual Popular de Sociologia Marxista (1922). Trata-se, para o autor dos Cadernos, de uma obra totalmente prisioneira de um conceito de ciência copiado das ciências naturais — segundo o princípio fixado pelo positivismo de que estas são a única forma possível de ciência. O resultado é que a compreensão de Bukharin da história não é dialética, mas inspirada por um «chato e vulgar evolucionismo» que pretende fazer «previsões científicas» análogas às que buscam as «ciências exatas».
É interessante observar que alguns anos antes Georg Lukács havia criticado o manual de Bukharin em termos bastante semelhantes na revista Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (1925). É muito pouco provável que Gramsci tivesse lido esse ensaio: simplesmente os dois partilhavam uma mesma orientação filosófica, historicista/dialética, humanista revolucionária e antipositivista, da qual participavam também outros pensadores marxistas como Karl Korsch ou — desconhecido na Europa — o peruano José Carlos Mariátegui.
Gramsci praticamente não conhecia os trabalhos de Lukács; e este último só descobriu o marxista italiano a partir dos anos 60. Mas, numa entrevista de julho de 1971 — pouco antes de sua morte — para a revista inglesa New Left Review, o filósofo húngaro reconhece que ele, Karl Korsch e Antonio Gramsci haviam tentado lutar, cada um à sua maneira, contra o positivismo e o mecanicismo que o movimento comunista havia herdado da Segunda Internacional. Lukács acrescenta o seguinte comentário retrospectivo: «Gramsci era o melhor entre nós».
Um comunista democrático, de GUIDO LIGUORI
Dez anos já se passaram desde 1989, o ano-símbolo que encerrou um pouco antecipadamente o Novecentos, dando a Eric Hobsbawm a possibilidade de defini-lo como um «século breve». Ainda estamos longe de uma plena compreensão histórica daqueles acontecimentos, mas uma coisa podemos afirmar com certeza: Antonio Gramsci superou ileso essas recentes tempestades.
As previsões de quem vaticinava um redimensionamento de sua «fortuna» depois do fim do «socialismo real» e da crise do movimento comunista internacional, em todas as suas distintas versões, foram clamorosamente desmentidas: Gramsci continua sendo lido, estudado, traduzido, citado pelas mais diversas disciplinas e a partir de diferentes pontos de vista políticos.
Obviamente os acontecimentos da «grande política» não deixaram de fazer sentir seu peso. A história das interpretações gramscianas, de resto, sempre foi exemplarmente «dialética». O pensamento do autor dos Cadernos sempre se coadunou aos contextos com que se defrontou, dando lugar a leituras diversíssimas — como ocorre com os clássicos e sobretudo com um pensador «aberto», problemático, incompleto e (só na aparência) fragmentário. Isso não significa que todas as leituras sejam legítimas, mas apenas que a história mesma decidirá o que, nele, se mostrará duradouro ou caduco.
Por exemplo: a atual tendência — na Itália, mas não apenas — a fazer de Gramsci um autor democrático-liberal, que não parece ter fundamento nos textos e na história deste autor, mas que caracterizou muitas interpretações nesses últimos dez anos, tem futuro? É cedo para dizer. O certo é que Gramsci se considerava um comunista, ainda que seu modo de sê-lo, por ser tão rico, atento à busca do consenso, avesso às cômodas simplificações da história, o afastassem das versões preponderantes do «ser comunista» neste século. Talvez o frustrado reconhecimento de Gramsci como a grande figura do comunista democrático — o que ele de fato era — decorra do preconceito, partilhado por muitos, de que esta expressão seria quase um oxímoro.
Ao lado do debate político sobre Gramsci, houve na Itália dos anos 90 uma intensa discussão filológica sobre sua obra. Entende-se que, para um autor que morreu sem ter podido preparar a edição de sua obra principal (os Cadernos do cárcere), a questão filológica seja fundamental, se bem que recentemente se tenha exagerado nesse aspecto, dando inclusive a impressão de que a filologia estaria sendo usada como anestésico ao incômodo «ser comunista» do autor.
A recepção de Gramsci foi profundamente condicionada pela forma como Palmiro Togliatti, seu sucessor na direção do Partido Comunista Italiano, publicou os Cadernos. Togliatti reuniu as notas de Gramsci por assunto, eliminando as mais problemáticas, isto é, aquelas que mais colidiam com a política da União Soviética, e também as muitas repetições e variantes supérfluas. Com isso ele favoreceu bastante a difusão e a legibilidade dos Cadernos. Na metade dos anos 70 Valentino Gerratana publicou uma apurada edição crítica, que apresentava a obra de Gramsci tal como ele a havia deixado escrita nos cadernos: uma obra de leitura bem difícil, que talvez tenha desencorajado os militantes, mas entusiasmou (com razão) os especialistas.
No início dos anos 90 houve quem, contra a opinião do próprio Gerratana, pensou avançar ainda mais no caminho «filológico», buscando reconstruir os Cadernos não segundo a ordem «espacial» em que nos chegaram, mas segundo a seqüência cronológica em que o autor os teria pensado e redigido. Gramsci escrevia meio que saltando de um caderno a outro ou dentro de um mesmo caderno, não só pelos complexos motivos do regime carcerário, mas também por vontade própria. Uma edição desse tipo talvez fosse inoportuna porque não respeitaria aquele mínimo planejamento editorial que o próprio Gramsci esboçou no cárcere. Além disso, ao pretender estabelecer o que o autor teria feito se fosse livre para escrever suas notas, sem as limitações impostas, tal edição arriscaria sobrepor o arbítrio do intérprete à vontade de Gramsci.
Esses imbróglios filológicos não deixaram de complicar a vida dos tradutores que, em várias partes do mundo, estão hoje às voltas com a tentativa de apresentar aos respectivos públicos a complexidade do texto de Gramsci, respeitando o escrúpulo filológico de Gerratana, mas também a paciência e a competência dos tantos leitores que, sem serem especialistas, continuam lendo o autor.
A expectativa é que a proposta apresentada pelos organizadores da edição brasileira — que buscaram conciliar a maior «inteligibilidade» da edição de Togliatti com a inteireza e confiabilidade filológica da edição Gerratana — possa dar ao leitor de língua portuguesa uma «caixa de ferramentas» conceituais ainda útil para a orientação no mundo de hoje. E ao alcance de muitos.
A democracia cosmopolita, de SERGIO PAULO ROUANET
No início dos anos 60, um conhecido filósofo marxista disse que era preciso «gramscianizar» o Brasil. Pouco tempo depois, seus sonhos mais ambiciosos tinham sido ultrapassados pela realidade. Seria um exagero dizer que o Brasil tinha se «gramscianizado», mas o certo é que da noite para o dia quase toda a esquerda brasileira começou a usar expressões como «intelectual orgânico», «bloco histórico» e «hegemonia».
O que havia passado? Muito simplesmente, a esquerda independente sentira a necessidade de um marxismo mais aberto. Lukács oferecera uma alternativa estética. Não faltaram alternativas filosóficas, como a Escola de Frankfurt e Walter Benjamin. Havia uma alternativa política, o maoísmo. Com sua autoridade de ex-secretário-geral do Partido Comunista Italiano e de pensador que analisara todas as esferas da cultura, Gramsci foi num certo sentido a síntese de todas essas alternativas.
Em seus Cadernos do cárcere, ele mostrara que o determinismo econômico era uma doutrina grosseira, comparável à atitude do adolescente «satânico», no período romântico, que via, numa bela mulher, apenas o invólucro de um esqueleto. Sem a instância ideológica, dizia Gramsci, a base econômica era inerte, desprovida de qualquer dinamismo histórico.
Tudo isso era altamente bem-vindo para uma dissidência em busca de legitimidade teórica. A geração anterior tinha aprendido com Karl Mannheim que a intelligentsia era um estrato social flutuante (eine freischwebende Intelligenz), sem nenhuma vinculação com grupos sociais específicos. Ora, os intelectuais se consideravam ligados aos interesses da classe operária. Por outro lado, o partido que supostamente defendia esses interesses tinha uma desconfiança instintiva contra os intelectuais, em sua quase totalidade de origem burguesa.
É nesse momento que aparece Gramsci, dizendo que a classe operária só poderia chegar ao poder depois que os intelectuais tivessem logrado dissolver a hegemonia existente. Graças a Gramsci, os intelectuais recebiam uma missão, a de difundir uma nova concepção do mundo; um cargo, o de «funcionários da superestrutura»; e um espaço de atuação, a sociedade civil, atravessada por instituições como a família, a Igreja, a escola, a universidade, o jornalismo, o rádio e a televisão.
A voga de Gramsci pertence em grande parte ao passado. Ela deixou apenas alguns vestígios, como a expressão «sociedade civil», que em geral é usada hoje no Brasil por pessoas que nunca ouviram falar em Gramsci. Esse declínio é explicável pela redemocratização do país e pela perda de prestígio do marxismo, em todas as suas variantes. Preferimos hoje ver a sociedade civil como um espaço de argumentação e debate, e não como a arena em que se trava uma luta de morte entre classes antagônicas. Ficamos um pouco constrangidos com a truculência de certas metáforas militares, como a que fala em «guerra de movimento», em contraste com a «guerra de posição», ou a que considera o Estado como uma «trincheira avançada» e a sociedade civil como «uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas». E há que reconhecer hoje, em retrospecto, que Althusser teve alguma razão, nos anos 60, em preocupar-se com o «historicismo» de Gramsci, que o levou a considerar «verdadeiras» todas as concepções de mundo que se tivessem objetivado historicamente.
E, no entanto, é preciso reler Gramsci. Sob vários aspectos sua atualidade é indiscutível.
Veja-se, por exemplo, o que ele disse sobre a degradação da mulher na sociedade moderna, que a reduz à condição de «mamífero de luxo». Para Gramsci, «a formação de um nova personalidade feminina é a questão mais importante, de caráter ético e civil, relacionada com a questão sexual. Enquanto as mulheres não puderem atingir uma independência genuína em relação aos homens, uma nova maneira de refletirem sobre si mesmas e sobre seu papel nas relações sexuais, a questão sexual permanecerá rica em características mórbidas».
Em termos mais gerais, nenhuma teoria política que se respeite pode ignorar certas intuições de Gramsci, como a visão ampliada de Estado, incluindo não somente a sociedade política (instituições governamentais), mas também a sociedade civil, constituída pelas associações ditas privadas. Essa idéia é de grande importância na concepção atual de democracia, que pressupõe a livre interação entre a esfera estatal e a social e vê em cada órgão da sociedade civil o lugar de um confronto entre posições contraditórias.
Mas, ao lado desses temas tradicionais, creio que o pensamento gramsciano pode comprovar sua vitalidade defrontando-se com um tema novo, que ultimamente vem merecendo a atenção de cientistas sociais como David Held e Daniele Archibugi: o da «democracia cosmopolita». A democracia cosmopolita é uma forma de organização política que complementa as democracias nacionais, estabelecendo, com a participação e o assentimento expresso dos diretamente interessados, formas transnacionais de governo e de cidadania.
Podemos reformular na linguagem de Gramsci a estrutura da democracia cosmopolita. Ela seria composta de dois estratos: uma «sociedade política», com instituições governamentais de âmbito mundial, cujos integrantes seriam eleitos diretamente pelos indivíduos, qualquer que fosse sua nacionalidade, e uma «sociedade civil», também de âmbito mundial, composta de organizações não-governamentais, sindicatos, partidos políticos, igrejas e movimentos sociais.
Os atores que Gramsci mais valorizava — os intelectuais — desempenhariam um papel estratégico na democracia cosmopolita. Eles atuariam na sociedade civil universal, assim como os intelectuais de Gramsci atuavam nas sociedades civis nacionais. Estariam também a serviço de um «Príncipe», com a diferença de que ele não seria nem um déspota, como no tempo de Maquiavel, nem um partido totalitário, mas sim um sistema democrático global. E teriam um programa, voltado para os interesses mais gerais da humanidade: a luta contra as violações dos direitos humanos, contra as assimetrias internacionais de riqueza e de poder, contra as aberrações do capitalismo globalizado e contra os particularismos selvagens que estão levando à retribalização do mundo.
Finalmente, a matriz gramsciana pode contribuir para essa reflexão com uma utopia: a de uma nova civiltà, que seria algo como a «idéia reguladora» da democracia cosmopolita. É o projeto, inalcançável, mas irrenunciável, de uma civilização planetária, que segundo Gramsci teria «as características de massa da Reforma protestante e do Iluminismo francês e as características de classicismo da cultura grega e do Renascimento italiano, uma cultura que sintetize Kant e Robespierre, em uma dialética intrínseca a um grupo social, não só francês ou alemão, mas europeu e mundial».
Fonte: Folha de S. Paulo. Caderno Mais!, 21 nov. 1999.